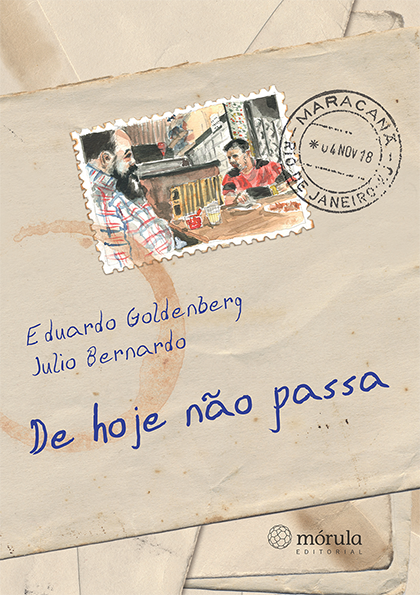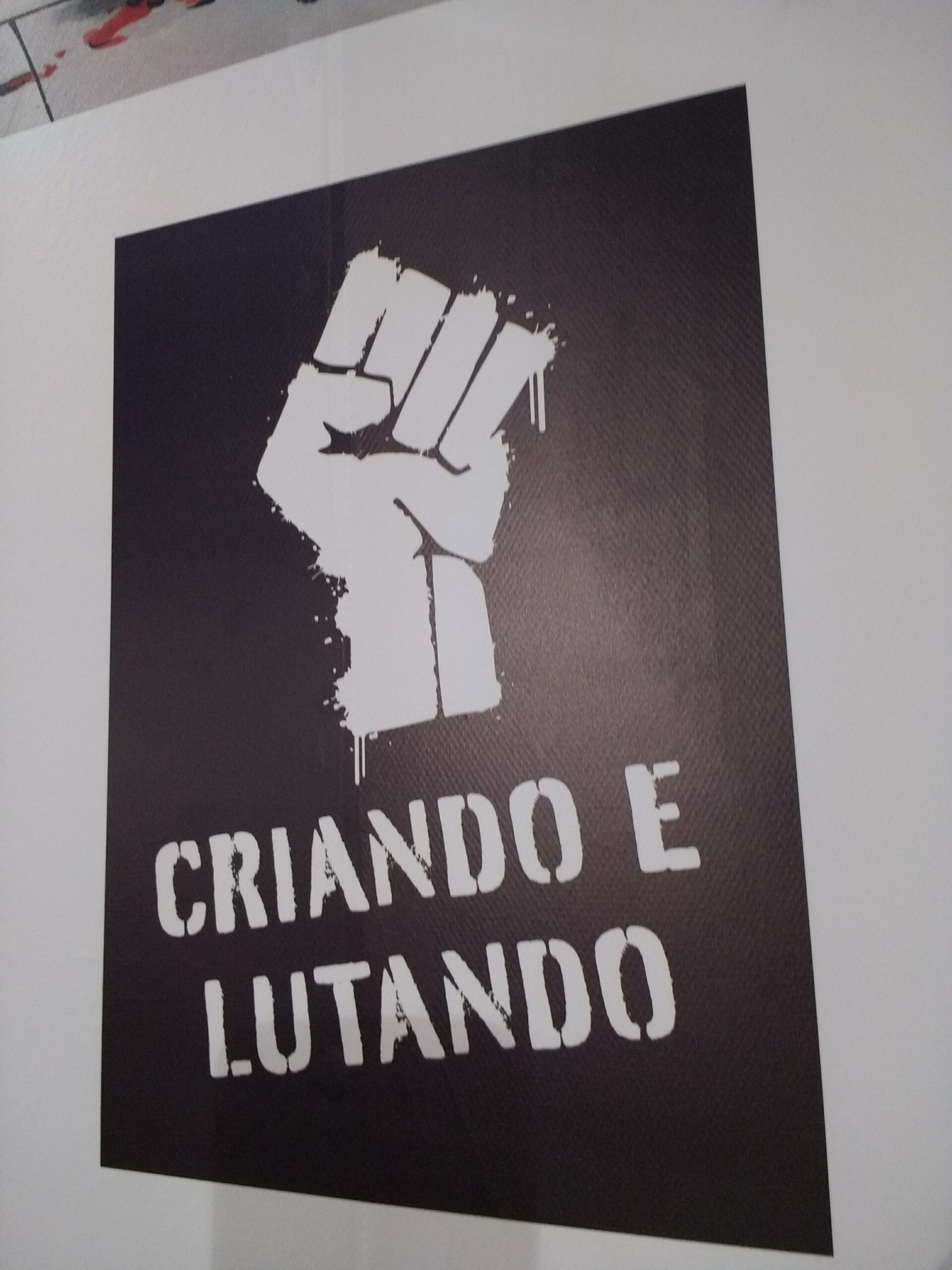Blog
Arte e cultura contra a pandemia e o fascismo
Indo para a II Guerra Mundial, um soldado brasileiro levou sua cuíca. Nesses tempos de pandemia mundial e de luta contra o avanço de ideias fascistas no Brasil (e no…
A final que não jogamos
Aldir Blanc conta sua versão da final de 2006
Tá chegando a hora
Marcelo Moutinho nos lembra que na Copa até jogo ruim é bom
Copa 2018
Luiz Antonio Simas e a tristeza da Copa de 1982
PTSC#27
Perguntas triviais para o complexo Mauro Iasi
Promoção de carnaval
30% de desconto nos títulos relacionados a carnaval, de 1 a 15 de fevereiro
Sururu no Maracanã
Rodrigo Ferrari, livreiro e personagem fundamental do Rio de Janeiro, recorda a final entre Flamengo e Independiente de 1995
Cosme e Damião
Luiz Antonio Simas homenageia os encantamentos brasileiros e os santinho irmãos
Mórula na FLIP 2017
A Mórula e alguns de seus autores participam de atividades da Festa Literária Internacional de Paraty, a FLIP, deste ano. Confira a agenda.